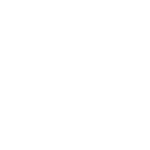‘A ponte’ e a felicidade capitalista
Última atualização: 30/09/2021
A pessoa permanece por algum tempo apoiada às grades vermelhas da ponte. Os transeuntes passam, mas ela parece completamente alheia a eles. Quem lhe presta atenção pode identificar a expressão alterada de seu rosto, mas a câmera, de longe, não é capaz disso. Podemos apenas inferir, pelos movimentos de seu corpo, o que se passa em seu íntimo, porque, em algum momento, ela transpõe a grade, alcança a viga exterior da ponte e se joga no mar.
Essa ação se repetiu 24 vezes em 2006, ano do lançamento do documentário A ponte, de Eric Steel, disponível no Youtube. No caso, é a Golden Gate, que conecta a cidade de San Francisco à Península de Marin Headlands, na Califórnia. A Golden Gate é o lugar do mundo mais escolhido pelas pessoas que tencionam se suicidar. A tentativa de montagem do quebra-cabeça das histórias de algumas delas permeia o filme.
O tema ainda hoje continua importante. Só no ano de 2013, 46 pessoas se jogaram da ponte, e mais outras 118 foram impedidas pela polícia de o fazer. Em 2016, o número de saltos caiu para 39, certamente por conta das ações de prevenção policial, já que o número dos que pretenderam se jogar e não conseguiram subiu para 184.
A desistência tardia
A ponte repete, de diversos ângulos, imagens da Golden Gate e de pessoas lançando seus corpos no vazio. Em meio a isso, há depoimentos de amigos e parentes de alguns dos que saltaram para as águas da Baía de San Francisco, a grande maioria alcançando seu intento. A exceção do filme é Kevin Hines, um sobrevivente do salto de 67 metros da ponte até o mar. Ele declara ter desistido da ação no exato momento em que se desligou de qualquer apoio que impedisse sua queda. Ato contínuo, procurou em sua mente, pelos segundos que o separavam das águas geladas, formas de sobreviver.

Ouvindo-o, não posso deixar de imaginar que muitos dos que morreram devem ter pensado a mesma coisa ao se jogarem não apenas da Golden Gate, mas também das outras milhões de pontes que há no mundo. Há, nas falas dos amigos e parentes que reportaram sobre a vida e a personalidade de alguns dos que não sobreviveram à queda, muita tristeza e culpa.
Ainda assim, também há um pouco de alívio, porque elas tinham clareza de como o sofrimento tomava aos poucos a vida dos amigos, filhos e irmãos que perderam. Umas vezes, o sofrimento de uma vida inteira; outras vezes, de uma situação para a qual não conseguiam vislumbrar saída.
Em todos os depoimentos, a percepção de que, na equação da sua existência, faltava uma constante – esse elemento imponderável e intransferível que nos mantém apegados à vida mesmo na pior das intempéries. Além dela, uma grande generosidade pelos sentimentos que levaram aquelas pessoas a agir de forma tão definitiva e trágica.
A Ponte também fala da beleza de um monumento nacional
A Golden Gate, ponte do tipo pênsil, foi inaugurada no ano de 1937 para ligar a parte externa da Baía de San Francisco ao norte da Califórnia. Por uma vocação espontânea, dessas que acontecem com alguns lugares especiais neste mundo, a ponte tornou-se um lugar de magia e encanto. Tanto é que pelo menos 25 milhões de pessoas estiveram lá em 2016, ano em que recebeu mais visitantes. Claro que, para isso, concorre também a beleza do lugar em que se encontra. De um lado, há a encantadora cidade de San Francisco; de outro, lugares charmosos como Sausalito e Mill Valley.
A névoa que invade a baía vindo do Pacífico e por vezes torna a ponte invisível traz o mistério que povoa a mente de quem a contempla. Nesse sentido, Eric Steel explorou o nevoeiro para reforçar o caráter singular da personagem principal do seu documentário. A imensa estrutura vermelha, sustentada por duas torres separadas por quase dois mil metros de uma pista que parece suspensa no vazio, é outra característica que ajuda o diretor a mostrar ao espectador o que representa jogar-se dela.
Uma imagem que se repete pelo menos três vezes é a da ponte vista inteira, gigantesca e imponente, e súbito se vê algo diminuto e invisível caindo no mar. Só se sabe que alguma coisa atingiu a água pelos espirros de espuma branca que sobem, ao longe. Trata-se de mais um que se jogou.
A ponte e sua ética bastante questionável
Essa mágica e esse gigantismo podem ser fatores a atrair suicidas à ponte. Pode-se querer morrer de uma forma especial. Ou se pode partir dessa vida se lançando em uma espécie de voo. Ou, também, agir de uma forma que não permita impedimentos nem desistências. Todas essas são ideias que aparecem nos depoimentos dos que conheceram as pessoas cujas ações o documentário mostra e descreve.
Entre elas, destaca-se Gene Sbrague, cuja personalidade depressiva e nada resiliente é lembrada por seus amigos. Sua imagem derradeira é repetida ao longo do filme. Vemos um homem alto, de cabelos longos, vestido de preto. Ao longo do filme, ele repetidamente aparece andando de um lado a outro do passeio da ponte. Até que, enfim, numa ação final, lança-se como um mergulhador de Acapulco para o abraço da morte nas águas da baía.

A visão de Gene Sbrague e de outras pessoas se suicidando é o grande senão do filme. Por exemplo: a certa distância, as cenas lembram os voos e mergulhos de aves marinhas em busca de alimento. Mas sabemos o que a imagem significa, e isso é por demais chocante e melancólico. Por conta dos serviços de resgate da ponte, elas constituem a minoria cuja ação desesperada não se pôde evitar.
Todavia, a exibição de suas mortes pelo filme tem um quê de sensacionalista. Sabemos no que aquilo vai dar. Continuar a assistir ao filme mesmo assim nos faz sentir como os espectadores dos programas de TV que expõem a violência explícita das cidades grandes.
Não se propõem justificativas
O fato de Steel ter ficado por milhares de horas filmando a ponte à espera de que alguém se jogasse dela também é motivo de desconfiança sobre as intenções do diretor. Ele deseja denunciar e sensibilizar as pessoas sobre um problema grave da sociedade americana? Ou simplesmente quer ganhar notoriedade sobre o sofrimento alheio? Fica ao espectador a escolha de qual interpretação fazer, já que, evidentemente, Steel não fornece essa explicação.
Outra interpretação que o filme não se propõe dar, e acho isso até louvável, é sobre a razão de as pessoas atentarem contra a própria vida, algo que quase todos nós achamos a ação mais antinatural que um ser humano pode praticar. Cada um define para si um motivo. Um deles é falta de religião, que a rigor considera o suicídio um pecado mortal, o que impediria os fieis de o praticarem, sob pena de passarem a eternidade no inferno.
A covardia, outra razão apontada, é bastante nebulosa, já que alguns suicídios, verdadeiramente dolorosos e traumáticos, apontam para o contrário. Necessidade de chamar atenção também é um argumento fraco. Grande parte das estratégias suicidas, como se jogar de uma ponte alta como a Golden Gate, não pode ser revertida.
As perguntas ficam para quem assiste
Não se propor tentar responder a pergunta de por que as pessoas se suicidam é um acerto do filme. De fato, essa pergunta não deve ser feita. A pergunta que cabe, a meu ver, é por que construímos um mundo onde muitas pessoas não conseguem viver, e acreditam que a única solução para esse problema é morrer.
Ou, em outras palavras: excluindo condições patológicas graves que precisam de medicação para se ter um mínimo de paz psicológica, que tipo de pessoa se exige que sejamos nesse mundo para viver nele sem sermos excluídos? Por que a recusa em sermos esse tipo de pessoa, por quaisquer motivos, implica uma angústia tão grande, que muitos de nós não veem outra solução para esse problema além de morrer?

Uma das pessoas retratadas no filme chegou a escrever bilhetes em que dizia, “não tenho dinheiro, sou um perdedor”. Por que não ter dinheiro significa ser um perdedor? Por que se ver como um perdedor, nesses termos, leva alguém a pensar em morrer?
Com efeito, a ideia de vencedores e perdedores é forte na sociedade estadunidense. É um dos pilares da construção da subjetividade capitalista, que é basicamente individualista e competitiva, obrigando as pessoas a serem felizes porque pessoas felizes produzem mais. Assim, as pessoas que não se encaixam nesse padrão de felicidade, de saúde, de beleza, de renda, de aptidão física para produzir, são não raro condenadas à marginalidade.
O sofrimento psíquico não é um problema relevante
Em países com estruturas privatizadas de saúde, como os Estados Unidos, é mínima a oferta de apoio psicológico para pessoas que não têm seguro-saúde, justamente porque elas não têm renda para arcar com um. Consequentemente, produz-se um círculo vicioso, uma espiral para baixo, que as joga mais e mais no fundo da baía, antes mesmo de elas sequer pensarem na possibilidade em pular.
Mas isso não importa, porque as pessoas que não se encaixam no modelo capitalista de pessoa simplesmente não interessam. Elas não produzem, por isso não contribuem para a glória do capital, portanto podem ser descartadas.
A sociedade brasileira está caminhando para ter uma estrutura dessas, já que aumenta mais e mais o número de pessoas que acha a seguridade pública um privilégio. De todo modo, da forma como se coloca o SUS agora, o serviço de apoio psicológico é considerado supérfluo. É como se as pessoas pobres também não passassem por sofrimento emocional e eventualmente não pensassem no fim da própria vida como solução para os seus problemas, muitos deles ocasionados pelo não encaixe nos padrões e exigências capitalistas de sucesso e felicidade. Dessa forma, num provável processo de privatização da saúde, esse serviço provavelmente será o primeiro a ser extinto.
A ponte trata de um mundo que nos adoece emocionalmente
Então, seja como for, a questão não é por que as pessoas se matam. Importa saber por que se impõe a elas que sejam e sintam exatamente o contrário de como se sente quem dá cabo da própria vida. Por que somos obrigados a ser felizes? Por que a felicidade está, na contemporaneidade, baseada em sucesso material, beleza, aptidão física e juventude, e não nas relações de amor e cuidado, na partilha de conhecimento e afeto entre as pessoas em comunidade?

Se não houvesse uma imposição tão acachapante e ubíqua de felicidade nos termos capitalistas, será que os suicídios aconteceriam com tanta frequência em alguns países? Por exemplo: observe-se que, junto a essa imposição, há uma pesada e milionária estrutura farmacêutica que produz medicamentos que tencionam forçar uma felicidade que não se consegue ter por via das ações voltadas aos valores de mercado.
Além disso, há uma ordem discursiva que limita ao universo bioquímico as condições existenciais humanas, isolando-as do plano social. A felicidade química é uma falsa felicidade, ou, no máximo, como Michel Foucault nos ensinou, uma docilização dos corpos. Contudo, infelizmente, essa acaba sendo a escolha de muita gente.
Afinal, onde está a doença?
Dessa maneira, também se pode enxergar o suicídio como sendo, muitas vezes, o extremo da recusa em fazer parte desse mundo, em negociar com ele, porque nessa negociação invariavelmente saímos perdendo. Infelizmente, muitas pessoas interpretam essa recusa como evidência do seu fracasso. E elas se matam porque se sentem fracassadas em não conseguirem se integrar ao mundo. Não conseguem perceber que, na verdade, o grande fracasso é a própria construção do modelo capitalista de vida em que estamos todos armadilhados.
Enquanto insistirmos em não olharmos para isso, em não avaliarmos os padrões de mundo em que (sobre)vivemos, que nos faz muito mais mal do que bem, é bem provável que muita gente ainda vai continuar se jogando das pontes – da Golden Gate e de muitas mais. A nós outros, aos que têm estômago forte para isto, caberá apenas assistir.

Direção: Eric Steel
Roteiro: Tad Friend
Edição: Sabine Krayenbühl
Fotografia: Peter McCandless
Trilha Sonora: Alex Heffes
Elenco: Eric Geleynse, Chris Brown, Susan Ginwalla