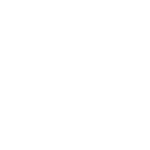Elize Matsunaga: era uma vez um crime
Última atualização: 18/07/2021
O espectador passa uma boa parte do tempo sem saber que nome dar para aquilo a que está assistindo. É porque Elize Matsunaga: era uma vez um crime recusa-se a se encaixar em um gênero audiovisual. Almeja inserir-se em algo muito maior: na mais absoluta e atual contemporaneidade. E isso é muito, muito bom.
Já faz tempo que deixei de priorizar a necessidade de dar nomes às coisas, mas busco organizar em minha mente as imagens da produção da Netflix dirigida por Eliza Capai. Busco identificar em que estética(s) Capai se inspirou para compor aquilo ao qual é impossível dar um nome. Sua obra deixa para trás os traços prototípicos do documentário. Entretanto, ao mesmo tempo, oferece uma integridade robusta, e uma inteligibilidade e empatia imediatas ao espectador. Por isso, não por acaso Elize Matsunaga: era uma vez um crime nos últimos dias alcançou o top 10 da Netflix no Brasil e fora dele também.

Intuitivamente, atribuo parte dessa estética ao Big Brother. Sem dúvida, o reality show há duas décadas educa cognitivamente pessoas no mundo todo. E, a meu ver, dita um padrão híbrido de realidade: pessoas se articulam a personas; narrativas, a enredos; espontaneidade, a atuação. Nesse padrão, verdade e mentira são dimensões cujas fronteiras já deixaram de interessar aos espectadores. O que eles veem são obviamente personagens, ou seja, os participantes são personagens de si mesmos, e todo mundo ali está fingindo. Mas me parece que isso não espanta ou repugna a quem assiste. Talvez seja por isso que cada vez menos gente se importa se um político fala a verdade ou a mentira, contanto que fale aquilo em que se acredita.
Por outro lado, a verdade está sempre ali; nós é que precisamos nos alfabetizar nela.
Simetrias cognitivas para desconstruir os “personagens”
Como Capai prefere a desconstrução dos gêneros paralelamente à desconstrução dos fatos, seus próprios depoentes também são desconstruídos. Quem são eles? Pessoas comuns? Ou atores? Ou personagens de si mesmos, como aqueles do Big Brother? No centro da narrativa está, evidentemente, Elize Matsunaga, ela mesma obviamente dirigida por Capai. Em momentos-chave de suas falas, a fim de enunciar uma ou outra frase de impacto, Elize quebra a quarta parede, e com isso constrói o contexto de que olha diretamente para o espectador, buscando sua empatia, quiçá sua cumplicidade.
Me lembrei do estudo de William Hanks chamado The Indexical Ground of Deictic Reference. Nele, Hanks fala de uma ação humana chamada simetria cognitiva, que é quando empregamos um determinado recurso para trazer a atenção e a presença de nosso interlocutor para a mesma cena em que estamos. Por exemplo, podemos contar toda uma história no passado, mas, ao enunciar o seu clímax, mudamos o tempo verbal para o presente, para situarmos a nós mesmos e ao nosso interlocutor na cena que descrevemos – um mesmo momento, e um mesmo lugar.

Hanks certamente não hesitaria em identificar a simetria cognitiva no olhar direto que Elize e seu advogado dirigem à câmera/espectador no momento de enunciarem uma sentença mais impactante. Mais importante do que a finalidade de agirem assim, já que não há uma presunção de inocência em jogo, é a emulação do confessionário do Big Brother, onde os participantes também rompem com a quarta parede em busca de cumplicidade. Chega a ser bizarro que uma pessoa que não nega seu crime busque do público alguma forma de cumplicidade. Mas o que não é bizarro no Brasil de 2021?
A coragem de não dar respostas
Eliza Capai nunca disfarça sua intenção. Ao contar sua versão, Elize tem a fronte iluminada em contraste com um fundo e roupas negras. É mostrada se preparando para seu depoimento à produção, sendo maquiada e penteada por profissionais. Instruída por Capai, alterna seu olhar entre quem a entrevista e a câmera/espectador. É admirável a ousadia de Capai em explicitamente mostrar uma ré confessa condenada por assassinato como se fosse uma atriz de movimentos estudados, e não uma vítima da maldade do mundo.
A meu ver, isso deriva de sua confiança em oferecer de maneira extremamente bem sucedida um entorno diegético que também não concederá ao espectador o que ele normalmente espera de uma história de crime e castigo. Em grande medida, sua opção se aproxima muito de outra produção excelente da Netflix, que é Bandidos na TV. Assim como Capai, o diretor Daniel Bogado pretendeu, sabiamente, deixar mais dúvidas do que respostas, e o final de sua minissérie apenas oferece uma certeza: o mundo é um grande teatro, nada nem ninguém é o que parece. Para que, então, a preocupação em identificar quem é o criminoso e quem é a vítima?

Por outro lado, existem verdades que não cabe a Elize Matsunaga; era uma vez um crime questionar, e, com efeito, essa escolha não é feita por Eliza Capai. Boa parte da notoriedade do assassinato de Marcos Kitano Matsunaga vem da vida abastada da família, e também de os fatos se encaixarem num padrão narrativo muito caro ao grande público. Elize, a princesa (“Era uma vez…” inicia todo típico conto de fadas) resgatada da pobreza pelo empresário rico, buscou eliminá-lo quando percebeu que seria destronada. Nesse padrão, Elize é a mulher fatal, dondoca e ex-prostituta perigosa e violenta.
Atire a primeira pedra quem nunca pecou
Capai dedica um tempo grande a outra ação ousada: a de mostrar o machismo que permeou o processo e o julgamento de Elize. A diretora faz isso expondo justamente os homens velhos, vaidosos e ricos que a investigaram e trabalharam por sua condenação. Novamente louvo a coragem de Capai em deixar que eles mesmos se denunciem, julgando o caráter de Elize por sua vida sexual, e perdoando o colecionador de mulheres Marcos por tê-la descartado (“Vou lá pegar a louca”, diz ele em seu último dia de vida).

Aqui me lembro também do excepcional podcast Praia dos Ossos, que narra todos os acontecimentos e estados de coisas direta e indiretamente ligados ao assassinato da socialite Ângela Diniz pelo playboy Raul Doca Street em 30 de dezembro de 1976. Entre as gravações do primeiro julgamento de Doca Street, do qual ele sai absolvido com a famigerada tese da “legítima defesa da honra”, seu advogado Evandro Lins e Silva argumenta: “Ela queria a vida liiiivre” (acentuo com os iiii a duração mais longa da vogal que marca o horror de Evandro por uma mulher que só queria namorar). Ângela Diniz, descrita como devassa, provavelmente bissexual e promíscua, sai praticamente culpada pelo próprio assassinato. Além disso, nada se diz de Doca Street ser um “princeso”, um homem metido a machão mas que vivia do trabalho dos outros.
Para além de tudo, uma verdade
Sobre o trabalho de Eliza Capai, fala-se muito do que ela deixou de abordar. Também se fala que deixou ao espectador a decisão de comprar ou não a história de Elize. Mas pouco se fala da verdade histórica que Eliza Matsunaga: era uma vez um crime reitera: a de que o machismo estrutural, uma das marcas de nossa paralisia civilizatória, sempre livrará os homens e colocará as mulheres no lugar de culpadas. Não importa de que lado do crime cada um está. Como se nossa condição cotidiana já não fosse a de estarmos sempre sendo e nos sentindo culpadas por alguma coisa. E, pelo que se apresenta hoje na sociedade brasileira, parece que por muito tempo ainda continuaremos paralisados.

Enfim, ao fim e ao cabo, permanece uma pergunta: numa sociedade menos machista, quais seriam as possibilidades de esse crime ter acontecido?

Direção: Eliza Capai
Roteiro: Elaine Perrotte, Diana Golts
Edição: Daniel Grinspum
Fotografia: Janice D´Ávila
Elenco: Elize Matsunaga, Luciano Santoro, Luiz Flávio D’Urso, José Carlos Cosenzo, Mauro Gomes Dias