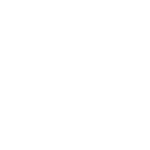Heartstopper
Última atualização: 26/06/2022
Ensina-nos Achille Mbembe que “o negro e a raça têm sido sinônimos, no imaginário das sociedades europeias”. Me pergunto se também é possível afirmar que as pessoas LGBTQIA+ e o sexo têm sido sinônimos no imaginário das sociedades patriarcais (todas, aliás).
Isso resolve muitas questões, principalmente aquela destinada à compreensão sobre por que a sexualidade não heteronormativa é alvo da ojeriza de tanta gente. A tomar pela analogia à fala de Mbembe, deve ser porque, num mundo que se finge assexuado, a ideia imediata de que as pessoas LGBTQIA+ fazem sexo causa um verdadeiro horror a quem não faz sexo e/ou gostaria que o sexo não existisse.
Mas Mbembe ensina mais. Ensina que a raça e o negro são delírios que a modernidade produziu. Quanto a isso, não se pode fazer analogia com as práticas LGBTQIA+, já que o Antigo Testamento já havia vaticinado a danação pública e eterna dos desviados da moral. Mas, quanto à parte do delírio, o pensamento de Mbembe se encaixa feito uma luva.

Entretanto, o patriarcado é bem mais antigo que o capitalismo. Certamente, de lá vieram muitos modelos para a biopolítica e a necropolítica que depois sustentaram a colonização e a escravidão. Com isso, de um mundo cindido entre homens e mulheres, derivou um mundo separado entre brancos e não-brancos, normais e doentes, heterossexuais e homossexuais – entre os salvos e os condenados, em suma.
No devir negro cabem todos os desprivilegiados
Definindo o devir negro do mundo, Achille Mbembe afirma que,
Da fusão potencial entre o capitalismo e o animismo [a transformação das pessoas em coisas], resultam algumas consequências determinantes para a nossa futura compreensão da raça e do racismo. Desde logo, os riscos sistemáticos aos quais os escravos negros foram expostos durante o primeiro capitalismo constituem agora, se não a norma, pelo menos o quinhão de todas as humanidades subalternas.
Assim, forma-se a “tendência à universalização da condição negra”, com a possibilidade de que outras categorias de seres humanos reduzam-se a coisas, se isso for oportuno: “exclusão, embrutecimento e degradação”.

Para exemplificar, menciono o caso denunciado pelo site The intercept: a menina de onze anos estuprada em Santa Catarina e sistematicamente induzida a manter a gravidez pela juíza responsável pelo caso, para que o bebê pudesse ser adotado por algum casal. Certamente branca, mas pobre, a menina por isso acaba se encaixando na estrutura de mundo maturada pela escravidão, baseada na categorização de pessoas que define quem vale mais e quem vale menos. Portanto, gente cuja vida não tem valor pode ser usada como reprodutora para o branqueamento da raça.
E assim se completa a profecia de Caetano Veloso e Gilberto Gil na canção Haiti: “quase pretos, de tão pobres”.
Uma série para os novos tempos
Na primeira temporada de Heartsropper, o espaço público é o lugar das categorizações inventadas pelo racismo, mas perfeitas para tudo o que se inclui no devir negro do mundo: no caso, Charlie (Joe Locker) e seus amigos, pessoas socialmente desencaixadas, e que por isso valem menos aos olhos de uma instituição que fracassa em suprimir o bullying, a violência e o crescente isolamento dos que não nasceram nas categorias privilegiadas pelo patriarcado e pelo capitalismo colonial.
Porém, no que diz respeito ao preconceito, marcam-se nitidamente na série as fronteiras entre o espaço público e o privado. O tempo de Heartstopper não é mais o tempo de Marvin (2017), de Anne Fontaine. Neste, ouve-se do menino gay: se você é negro, você apanha na rua e é consolado em casa; se é gay, apanha na rua e apanha em casa também. Em Heartstopper, contudo, rua e casa são lugares pertencentes a camadas civilizatórias distintas. Os pais de Charlie, assim como a mãe de seu namorado Nick (Kit Connor), abrem-se à compreensão amorosa da sexualidade dos filhos.

A rua, mais especificamente, a escola, é que é o problema. Vítimas da homofobia e da transfobia escondem-se como podem. E, quando não podem, caso de Elle (Yasmin Finney), menina transgênero, acabam tendo de mudar de escola. E aqui também a civilização parece já ter dado seu sopro de avanço pelas plagas britânicas, permitindo que Elle frequente uma escola só para meninas. No universo de Heartstopper, o feminino é mais civilizado que o masculino. Nenhuma novidade nisso, não é?
O terror na exclusão do feminino
Assim se vai formando o lugar do terror na Inglaterra recortada na série. É esse justamente o lugar onde o feminino se exclui, seja em pessoas, seja em energia, ou sentimento, ou ação. Não é à toa que a criadora Alice Oseman e diretor Euros Lyn fazem pequenas folhas e desenhos delicados circundarem ao redor dos personagens que desenvolvem sentimentos de amor. Os desenhos são pequenas blindagens ao grotesco que está à volta.
Não é à toa também que Charlie e Nick iniciam sua aproximação de maneira afetada, artificial e temerosa. Além de uma mostra do talento dos encantadores Joe Locke e Kit Connor, também é uma forma de os personagens protegerem sua intimidade e sentimentos da brutalidade que os oprime e isola, de diferentes formas.

Ao longo dos episódios, essa artificialidade cede a atuações mais naturais, e os atores vão incorporando entrega e verdade a seus personagens. Isso aumenta ainda mais no espectador a percepção do delicado sentimento que os surpreende. A paulatina intensificação desse fluxo de sentimento espontâneo foi o que mais gostei em Heartstopper, entre tudo o que eu apreciei na série.
As dívidas de Heartstopper
A tomar como uma possível crítica, apenas o fato de que episódios tão curtos não são suficientes para tanta história que a tela nos apresenta. Histórias de passados tristes, traumáticos. Faltou tempo para o desenvolvimento de personagens que circundam o casal. Os amigos de Charlie – além de Elle, Tao (William Gao) e Isaac (Tobie Donovan) – são tão interessantes quanto ele, em especial Isaac, que permaneceu sem narrativa por toda a temporada.
O mesmo se diz sobre os antagonistas homofóbicos, ainda tratados com monocromia. Eles, também, certamente carregando suas dores e violências, como mostrou com precisão Sex Education, outra pérola da Netflix. Para a segunda temporada, a dívida maior de Alice Oseman com o público é a de contar a rica história dessas pessoas.

O Reino Unido ainda ostenta o troféu de melhores formas de tratar as temáticas LGBTQIA+. Isso num país que até 1967 condenava à prisão as práticas homossexuais (na Escócia, até 1980; na Irlanda do Norte, até 1982). Filmes como o maravilhoso Weekend (2011), de Andrew Haigh, tratam de um mundo em que não mais o pavor de ser preso ou ser morto participa do cotidiano das pessoas excluídas da caixinha do patriarcado heteronormativo. Mas, ainda assim, tudo é assustador, porque é sempre assustador buscar o amor, perder e se perder.
Os estadunidenses precisam se preocupar com suas chacinas
No universo anglo-saxão, os britânicos passaram rapidamente da criminalização para um cinema que avança em pensamento. Em compensação, os puritanos estadunisenses ainda estão no estágio do louvor às armas, os símbolos fálicos máximos do capitalismo.
O culto aos instrumentos de morte os impede de resolver suas próprias chacinas escolares, já que as armas são o instrumento que eles mesmos ensinam à sua juventude como resposta à loucura da misoginia, da homofobia, da transfobia, da xenofobia, da gordofobia, da gagofobia e todas as outras fobias que somos e ainda seremos capazes de inventar.
Por isso, para lidar com o preconceito, os britânicos fazem filmes e séries. Por sua vez, os estadunidenses, ao confundirem liberdade com propriedade, se armam até os dentes, e com isso transformam expressão de ideias em assassinato. Tragicamente, também no Brasil muitos estão neste caminho. Se ainda temos salvação, eu não sei, mas desconfio que em breve saberemos.

Direção: Euros Lyn
Roteiro: Alice Oseman
Edição: Sofie Alonzi
Fotografia: Diana Olifirova
Design de Produção: Tim Dickel
Trilha Sonora: Adiescar Chase
Elenco: Joe Locker, Kit Connor, Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Cornac Hyde- Corrin, Olivia Colman